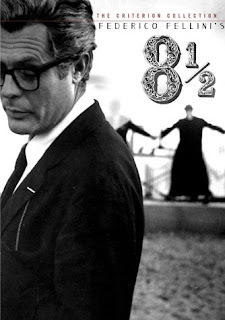Muitas pessoas mais gabaritadas do que eu já emitiram suas opiniões sobre este fato. Não será este espaço minúsculo e anônimo que ampliará qualquer entendimento acerca da polêmica. Mas vamos lá! Os amantes do cinema, sempre debateram sobre o aspecto "selvagem" da nudez explicitada no filme O último tango em Paris, de 1972. Para a época em que foi produzido, cenas de nudez, felação, masturbação, sexo anal, palavrões, e a atmosfera niilista vivida pelo personagem de Marlon Brando, talvez criasse caos e um consequente celeuma por onde quer que tenha sido visto. De fato, o filme foi censurado em diversos países - inclusive no Brasil. Esse fato só serviu para alimentar uma "mística" em torno da produção franco-italiana. É um filme erótico? A resposta: Não.
Na segunda-feira (após duas outras tentativas baldadas), eu vi o filme. Nas vezes em que tentei e não consegui, acabei sendo vencido pelo encadeamento das cenas. Dormi. A sucessão da história é lenta. Aspectos meio que improvisados são desfechados. As falas de Brando, principalmente, quando ele fala da mãe, demonstram um nível profundo de uma simplicidade angustiante. Palavras como "fezes", a "a mãe nua e bêbada", "porco" (e outras coisas que não lembro) estão ali. Vemos quão grande era o ator. Brando está medonho no filme. "Asqueroso". "Repulsivo". Um anti-homem. Um tipo indomável. Como na cena em que ele pede para que a personagem de Maria Schneider coloque o dedo em seu ânus (do personagem de Brando).
Pois esta semana, uma polêmica veio à tona: a confissão do consagrado diretor italiano Bernardo Bertolucci de que a famosa cena em que Maria Schneider contracena com Marlon Brando ("a famosa cena da manteiga") não tenha sido combinada com a atriz. Bertolucci, que hoje tem 75 anos de idade, confessou em 2013 que o acontecimento foi resultado de um estratagema entre ele e Brando, sem que Schneider soubesse. Palavras do diretor: "Não contei (a Schneider) o que ia acontecer porque queria que a sua reação fosse a de uma garota, não a de uma atriz". À época, Schneider era uma jovem com 19 anos de idade. Alguém que ainda não se firmara no mundo do cinema. Contracenar com Brando (que no mesmo ano faria o primeiro filme de O Poderoso Chefão, sob a direção de Francis Ford Copolla; e que já havia trabalhado em filmes clássicos como Sindicato de Ladrões e Uma Rua chamada pecado, ambos de Elia Kazan) certamente daria a ela uma espécie de senha para que se tornasse conhecida.
A grande pergunta é: se fosse outra atriz, com um nome mais poderoso do que Schneider como Catherine Deneuve (Repulsa ao Sexo e A bela da tarde) ou Brigitte Bardot (O desprezo e Masculino-Feminino), a dupla Bertolucci/Brando teria a mesma ousadia que teve com a jovem neófita? Mas isso não explica ou atenua a situação.
 | |
| A cena funesta |
Analisando a cena, não se tem uma ideia muito precisa para definir se houve ou não penetração. O problema está no cálculo, na gestação da ideia de se passar manteiga no ânus da atriz sem que existisse consentimento. Além da funda problemática de cunho ético, fica subentendido a coisificação do outro. A vulgarização, a falta de respeito para com a jovem atriz. E, por fim, a ideia de "estupro". Aliás, atitudes aparentemente sádicas são comuns a muitos diretores como, por exemplo, Stanley Kubrick ou Lars von Trier.
A famigerada cena durante muito tempo alimentou o imaginário masculino, pois ali há um acontecimento de clara dominação masculina. O sujeito que se posiciona à força, que subjuga, que não abre espaço para o debate, para a contradição. A cena do coito anal choca pela repulsa que gera - e não se trata de um moralismo barato. Bertolucci quis fazer um filme que chocasse. Queria deixar uma mensagem implícita para os telespectadores - que não havia limites para a arte. Faz lembrar O Anticristo (e a cena da mutilação genital), de Lars von Trier, que causa um impacto pelo aspecto negativo; ou a crítica destrutiva de Saló: ou 120 dias de Sodoma, de Pasolini.
No livro Feminismo e Política, de Flávia Birolli e Luis Felipe Miguel, encontramos a seguinte a afirmação que serve para fortalecer o que tento afirmar:
Representações das relações de gênero nas quais a mulher é humilhada e objetificada, isto é, tratada como menos que humana porque é definida como instrumento para a satisfação dos desejos de outros, podem contribuir, ainda que de maneira difusa, para a violência contra as mulheres e para a aceitação dessa violência.
Acredito que à época do filme, não havia esse debate consolidado de maneira tão substantiva como temos hoje. Entretanto, acredito que Bertolucci e Brando foram misóginos em suas intenções. Submeteram a jovem Schneider a uma situação constrangedora, subserviente, pelo fato dela ser ainda desconhecida. Sentiram-se verdadeiros garanhões próximos a uma vítima indefesa. Ajudaram a alimentar a sanha de muitos sujeitos que veem as mulheres como criaturas unicamente "para o coito" - e quanto mais expropriador da dignidade, melhor.